Na época remota, onde eu era um ávido colecionador de elepês, nem eu nem todos os meus conhecidos, jamais havíamos falar de gravações digitais. Até um amigo que na época já fazia estágio em estúdio como estudante de engenharia sequer mencionou o assunto, que eu me lembre.
No entanto, segundo historiadores, a modulação de áudio em PCM data de 1937, quando o cientista inglês Alec Reeves desenvolveu o conceito e ganhou a patente em 1938. Curiosamente, o processo de quantização de sinal de áudio tinha sido desenvolvido já no fim do século 19, aplicado à telegrafia. O mesmo aconteceu com Reeves, em trabalhos que envolviam transmissão de voz pelo telefone.
A década de 1970 iria mudar tudo isso: já em 1970 James Russel inventou uma maneira de gravar e reproduzir áudio digital em mídia ótica. Menos de 10 anos depois, a mídia ótica serviria de base para o design do Compact Disc pela Philips. O primeiro protótipo do CD trabalhava com som analógico, o mesmo usado no videodisco. Porém, logo se percebeu que ao mudar a gravação para PCM uma série de outros recursos, na forma de subcódigos, podiam ser gravados junto com o áudio, sem nenhum prejuízo do mesmo. Entre as vantagens do uso desses subcódigos estava a sincronização da velocidade de rotação do disco, de modo a manter o bitrate (taxa de transmissão de dados) constante. Ao contrário do disco analógico (elepê e equivalentes) a velocidade tangencial de leitura do CD varia do centro para a borda do disco, início e fim da gravação, respectivamente. Com o uso de subcódigos esta variação de rotação é extremamente precisa!
Enquanto o seu lobo não vem
A indústria fonográfica se adiantou ao CD, iniciando uma série de testes com som digital, começando pela Denon japonesa, seguindo experiências que precederam a indústria, como por exemplo, os avanços da NHK (televisão estatal do Japão) e da BBC. A Denon desenvolveu o primeiro gravador digital de 8 canais que se tem notícia. E o usou em gravações que datam do início da década de 1970. Estas gravações, como todas as outras feitas por estúdios no resto do mundo, viram a cor do dia em prensagens de elepês, bem antes do CD ser lançado.
A rotulação do método de gravação impressa nas capas dos elepês passou a ser uma atração a mais para o consumidor, e depois repassada à versão em CD. Na figura abaixo se vê as capas da mesma gravação em elepê e CD, esquerda e direita, respectivamente:
Até então, pouco se falava em gravação digital, mas o assunto foi tomando conta das revistas de áudio, sem maiores detalhes. A indústria fonográfica se beneficiou disso, ao lançar elepês com o uso da palavra “Digital” nos títulos. Um exemplo que eu queria mostrar é o do elepê (depois CD) de uma gravação da Varese, com o título “Digital Space (veja o fac-símile da edição em CD abaixo), onde se anunciava em destaque “a primeira gravação digital do tema de introdução de Star Wars”. O elepê, que eu comprei na Gramophone da Gávea, foi inclusive usado na sala de demonstração da antiga fábrica da Embrassom.
Quando o CD foi lançado muita gente que eu conheço se projetou em um mar de desconfianças em torno do rótulo “gravação digital”. Isto porque o CD não precisa ser necessariamente feito a partir de uma gravação digital. Daí a Polygram ter decidido estabelecer um novo rótulo, com 3 letras, já comentado nesta coluna: D ou A seriam indicativos para mídia Digital e Analógica, respectivamente. A primeira das três letras indicaria a gravação propriamente dita, a segunda a mixagem e a terceira o disco. Assim, todo mundo saía à cata de CDs com o rótulo “DDD”, para ter certeza de não estar comprando gato por lebre.
Depois do por do sol
Engenheiros de gravação rapidamente se deram conta da solução de vários transtornos que assolaram durante anos a captura de som analógico em fita magnética.
A fita magnética consiste de uma base de acetato ou outro tipo de plástico, a qual serve de suporte para uma camada magnética, como, aliás, já explicado algum tempo atrás nesta coluna, quando toquei no assunto relativo à conservação deste tipo de material.
Por causa da interação fita magnética + cabeça de gravação é inevitável que não haja ruído de fundo, principalmente no que se refere ao chamado “hiss” (“sibilado”), que é um ruído de alta frequência. Foi este tipo de ruído que motivou Ray Dolby a desenvolver o Dolby A, largamente usado na década de 1970.
As primeiras gravações digitais também foram feitas em fita magnética, mas como a informação gravada consiste de um bitstream o ruído natural da fita não passa adiante. Isto permitiu aos engenheiros de gravação trabalhar com uma faixa dinâmica sem precedentes.
Outra característica que ficou patente desde o início das capturas digitais foi a ausência de influência do transporte de fita na gravação do áudio: em ambiente analógico pequenas variações de velocidade no conjunto formado por motores, cintas, roletes e capstan produzem o que chama tecnicamente de “flutter” (“trêmulo”), que é percebido pelas diminutas variações de frequência no som de certos instrumentos, entre eles o piano.
Por isso, não foi à toa que a Decca gravou e lançou o álbum “Digital Magic” (cuja capa foi mostrada acima), com ênfase no piano de Stanley Black, acompanhado de sua orquestra.
Digitalmente, o flutter praticamente não existe, ou seja, o piano “não se move” em frequência. A propósito, a gravação de um som de piano sempre se apresentou como um tormento para os técnicos e engenheiros durante a maior parte da era analógica, e só não foi pior por conta de uma característica singular do ouvido humano: nem todo mundo consegue perceber pequenas variações de frequência!
As críticas dos descontentes
Eu ouvi e principalmente li em revistas de áudio americanas (3 no total: Stereo Review, Audio e High Fidelity) vozes que nutriram ódio quando o CD foi lançado ao fim do ano de 1982. Até então, estas vozes toleravam, por motivos que eu até hoje desconheço, o som digital gravado em elepê. É isso mesmo! E quando o CD saiu no mercado, ainda houve gente que dizia que o som digital cortado no sulco do elepê era melhor do que no CD! Tratava-se, em última análise, de uma clara contradição do discurso que rezava que o som analógico chegava próximo de 30 kHz ou mais no sulco de um elepê, ao contrário do som digital, o qual, segundo os críticos, era muito limitado na reprodução de harmônicos. Ora, se o som digital era limitado no topo da resposta de frequência, que melhoria iria haver no sulco de um elepê? Sem falar no ruído da massa, que costumava arruinar a relação sinal/ruído de qualquer elepê.
Na minha vida pós era analógica, eu ouvia de alguns conhecidos coisas absurdas: uma vez, um colega da universidade que era audiófilo convicto, ouvinte de clássico, me contou ter ouvido de um amigo que este era capaz de “ouvir” o som picotado do áudio digital. Este cidadão se referia à aproximação da onda musical por amostragem, que supostamente não captura uma senoide perfeita. Quando em 1983 me convidaram para ouvir um CD no estúdio da antiga Radio JB, eu levei este colega. Saindo de lá ele me afirma que o CD iria ser a coleção de discos derradeira da sua vida. Ou seja, o tal som picotado que haviam lhe contado caiu por terra na hora.
Derrubando preconceitos
É engraçado como o tempo corrige este tipo de mito. O som previsto para ser codificado no CD se restringe a 16 bits, por razões técnicas dos chips ADC daquela época, o que, em tese, teria restrito a representação completa da onda. O interessante é que até 1993 aproximadamente, nem o melhor dos reprodutores de mesa era capaz de reproduzir os 16 bits integrais do disco gravado. A maioria dos circuitos decodificadores ficava em torno de uns 14 bits.
Dias atrás, por coincidência, um amigo me manda uma cópia do XRCD que atualmente está fora de catálogo, com a gravação Film Spectacular volume II, gravado pelo processo da Decca chamado de Phase 4. O XRCD, neste caso, é feito com uma transcrição da master a 24 bits, e encerra uma série de processamentos de conversão que tendem a preservar o som analógico original, gravado em 1964.
Nem todos os XRCDs que eu tenho têm som em torno do assombroso, alguns até tendem a soar com um brilho elevado, mas este XRCD em particular mostra um som do processo Phase 4 que eu nunca ouvi antes. A clareza e a dinâmica observadas, a despeito de uma abordagem de captura conhecida, feita com um mar de microfones dentro do estúdio, são impressionantes. E se levarmos em consideração de que todas as regras do chamado Redbook têm que ser obrigatoriamente observadas, a gente se dá conta que o que se está ouvindo é na verdade nada mais do que o velho e bom CD, apenas com uma masterização exemplar!
Acontece, como é normal com o avanço da idade, se chegar à conclusão de que certos tipos de disputa de opinião, ainda mais aquelas subjetivas, são totalmente inúteis, eu até diria um autêntico exercício de futilidade. Eu, por acaso, cheguei a esta conclusão anos antes de me inteirar deste assunto. E como regra de conduta eu me disciplinei a estudar qualquer coisa primeiro, antes de ter para mim ou dar qualquer opinião a respeito. Como não sou engenheiro, a minha opinião sobre áudio digital poderia muito bem estar errada na base.
Mas, associando a leitura à observação (a teoria com a prática) a probabilidade de erro é infinitamente menor. O avançar da idade me forçou a não só deixar de lado as guerras de opinião e de egos que até hoje se espalham pela rede, e ser feliz com o que eu ouço e ao mesmo tempo me satisfaz.
Se depois de mais de 35 anos, ainda tem gente por aí que continua objetando e/ou dizendo que o som digital é picotado ou sem harmônicos, então que sejam felizes com o som que eles gostam. Infelizmente, para este povo, o som dos elepês hoje em dia custa caro, eu diria impagável, se for realizado pela aquisição de um equipamento de melhor nível. Claro que cabe a quem gasta o direito de gastar no que quiser. O som esotérico, por isso mesmo, não vai morrer, a não ser que audiófilos deste tipo morram juntos com ele!
Por outro lado, eu entendo, salvo melhor juízo, que aqueles que idolatram elepês e ao mesmo tempo se recusam a aceitar o som digital como formato avançado, todos eles estarão deixando de apreciar os avanços nas conversões DAC que se tem conquistado nos últimos anos. Na década de 1990 16 bits na reprodução de um CD era quase um milagre. Os atuais conversores já chegaram a 32 bits de resolução, com uma eletrônica que nada tem de esotérica. É literalmente impossível de não se apreciar a diferença!
Paulo Roberto Elias
Paulo Roberto Elias é professor e pesquisador em ciências da saúde, Mestre em Ciência (M.Sc.) pelo Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ, e Ph.D. em Bioquímica, pela Cardiff University, no Reino Unido.
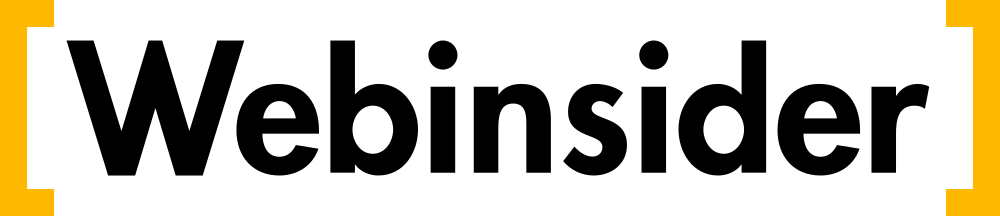




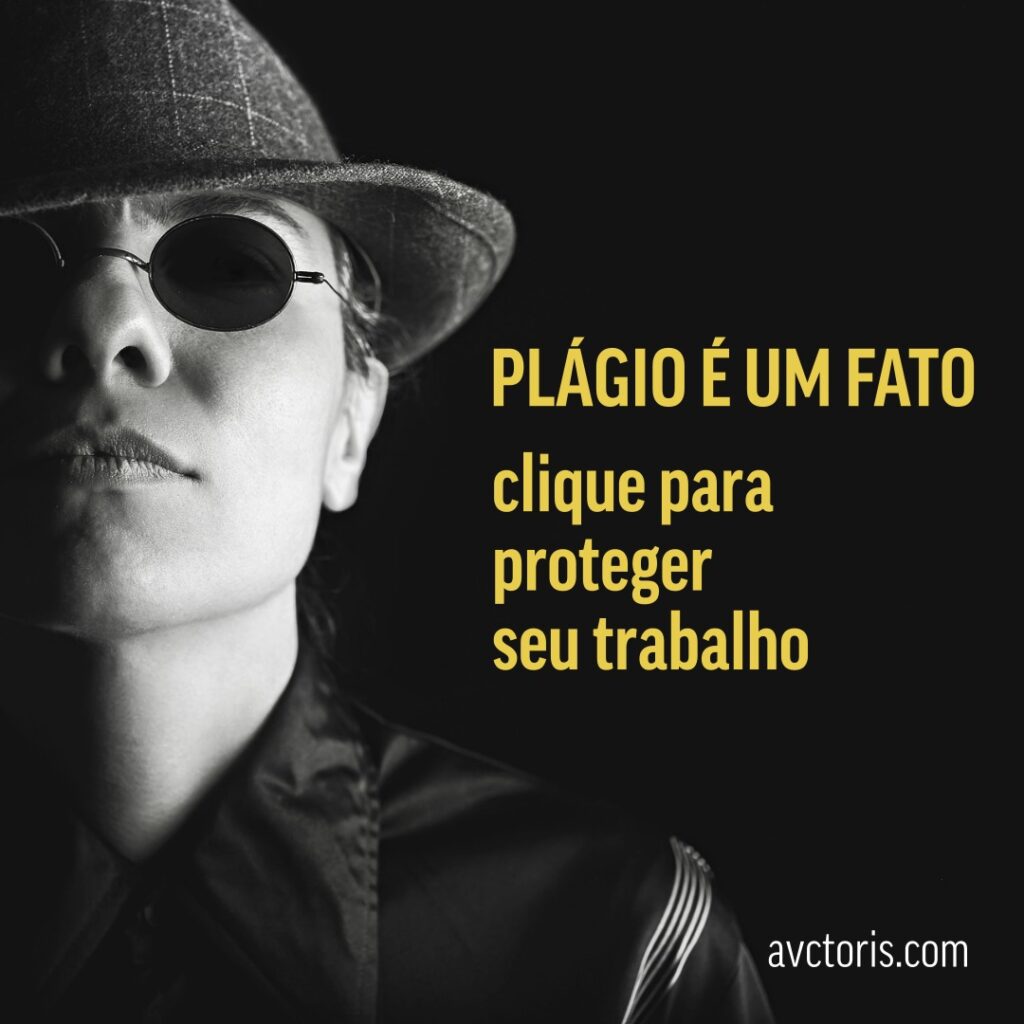


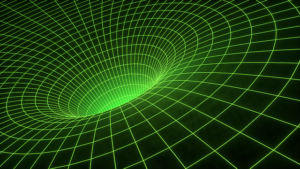






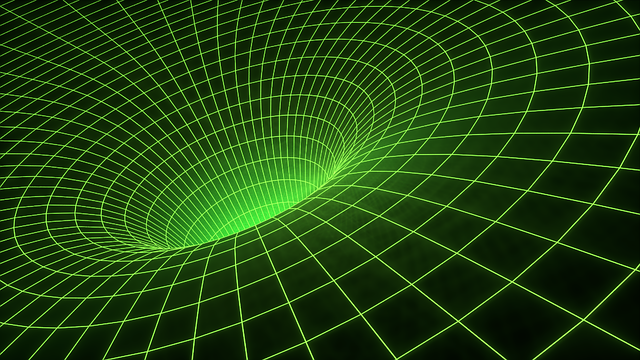




Uma resposta
Incrível como a tecnologia muda de forma drástica. Antigamente era uma agulha que emitia um som, coisa que já acho fantástico, agora tudo mais evoluído!